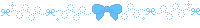Se tomadas por paixões, as mulheres não raciocinam com a cabeça, e sim com a genitália. Pelo menos era nisso que acreditava o filósofo Denis Diderot (1713-1784), que ainda emendava: as mulheres estariam tão submetidas a seus impulsos que suas almas - se é que mulher possuía alguma - estariam em suas vaginas. Em seus escritos, ele chamava a genitália feminina, "carinhosamente", de "joia": "Acho que a joia leva uma mulher a fazer mil coisas sem que ela perceba. Já reparei, mais de uma vez, que uma mulher que pensava estar seguindo sua cabeça, na verdade estava obedecendo à sua joia. Um grande filósofo situava a alma masculina no cérebro. Se eu atribuísse às mulheres uma alma, sei onde a situaria."
François Boucher - Louise O' Murphy - amante do rei Luís XV.
Diderot não foi o único a pensar na mulher desta forma. Boa parte dos "romances filosóficos" concebia suas personagens femininas como "emocionalmente desequilibradas" e "irrascíveis em suas paixões", mais propensas a caírem, inclusive, em um desregramento sexual. A origem desses romances, no século XVIII, está relacionada ao Iluminismo. Alguns filósofos da chamada "Época das luzes" tentaram responder a perguntas sobre uma possível natureza feminina. Afinal, o que se vê nas mulheres que não é possível ver nos homens? Existe uma superioridade masculina com relação ao controle dos sentimentos? Quais seriam, então, os "atributos" de uma "mulher virtuosa"? Em diferentes oportunidades, os pensadores responderam a suas inquietações por meio dos chamados "romances filosóficos".
Além de Diderot, Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778) e Crebillon Fils (1707-1777) fizeram dos romances importantes veículos para a divulgação das ideias e dos ideais iluministas, que criticavam a sociedade hierarquizada e a Igreja Católica. Talvez tenha sido esse um dos motivos pelos quais os romances foram tão perseguidos pela censura portuguesa no século XVIII. Mas as luzes - e, consequentemente, os romances - não se preocuparam apenas em avaliar e ironizar o trono e o clero. É certo que entre os temas mais abordados pelas narrativas também apareceu, de forma recorrente, a questão do feminino. Não teria sido fortuito, por exemplo, o fato de que vários romances, logo em seus títulos, já fizessem menção ao "belo sexo". Foi o caso dos romances Teresa Filósofa (1749), de Jean-Baptiste de Bayer, o marquês d'Argens (1704-1771), A Religiosa (1760), de Denis Diderot, Júlia ou A Nova Heloísa (1761), de Rousseau, e A Princesa de Babilônia (1768), de Voltaire.
Duas fases marcaram as opiniões dos "romances filosóficos" sobre as mulheres. Em uma fase inicial - na primeira metade do século XVIII -, as mulheres foram descritas de forma bastante pejorativa, quase sempre relacionadas a "paixões". Mas as mulheres não eram descritas como possuidoras de uma paixão que, bem moderada, incentivava as pessoas a cumprir seus objetivos. Não. Elas eram associadas a uma "má paixão", descontrolada, sem limites. Em suma: uma paixão que transformava os seres humanos em criaturas quase irracionais.
Essa imagem lasciva da mulher teve importantes consequências na caracterização das personagens dos romances. Em geral, as heroínas da primeira metade do século XVIII possuíam características físicas e psicológicas - juventude, beleza e voluptuosidade - que as inclinavam "naturalmente" a viver suas paixões. Jovens, as personagens representavam uma dupla imagem: a da mulher a ser deflorada e a da menina que começava a ser impelida ao sexo por seus próprios sentidos - situação vivida, por exemplo, pela personagem Teresa, do romance Teresa Filósofa. Bonitas, elas seriam sempre desejadas e convidadas a viver suas paixões. Manon Lescaut, a sensual protagonista de A História do Cavalheiro Des Grieux e Manon Lescaut (1731), escrita pelo abade Prévost (1697-1763), é um exemplo lapidar. Voluptuosas, as mulheres estariam constantemente com suas paixões afloradas, como Fatmé, coadjuvante de Cartas Persas, romance de Montesquieu publicado em 1721 e proibido pela censura portuguesa em 1771.

Jean Léon Gérôme - Piscina em um harém.
Nessa obra, as "mulheres orientais" são descritas por Montesquieu como seres tão desejosos de sexo que, para não se "perderem", deveriam ser trancafiadas e vigiadas, dia e noite, por eunucos. Vistas como lúbricas ao extremo, estas infelizes prisioneiras não conseguiam suportar a ausência do falo masculino. Somente por meio dele suas "paixões" poderiam ser temporariamente saciadas. Fatmé, ao longo de todo o romance, ilustrou bem este discurso. Presa em um serralho e distante de Usbek, seu "senhor", ela lamentava não poder saciar os desejos que tanto a castigavam. Sofrendo com os ataques de suas paixões, Fatmé oscilava entre a resignação - a fidelidade a Usbek - e o desespero - o anseio incontrolável por sexo. Até que, no limite de sua resistência, desabafa, com rara franqueza, em carta a Usbek: "Como é infeliz a mulher que tem desejos tão violentos quando está privada do único meio de saciá-los; quando abandonada a si mesma, nada tendo que a possa distrair, ela tem de habituar-se aos suspiros e viver no furor de uma paixão irritada".
Se havia interesse pela juventude e pela voluptuosidade, o mesmo não se pode dizer sobre personagens que viessem a representar os papéis de esposas e mães. Pouquíssimas obras, entre 1721 e 1760, apresentavam esse perfil. A razão parece óbvia: maternidade e matrimônio exigiam uma postura mais equilibrada das mulheres. E, definitivamente, os romances da primeira metade do século XVIII não viam, nem queriam ver, o feminino de tal forma. Interessavam-se mais pelas mulheres apaixonadas. Afinal, na opinião manifestada em alguns romances, eram as que melhor representavam a tão discutida e controvertida "natureza feminina". Além disso, tais personagens seriam, segundo os escritores do período, mais interessantes para o público leitor. Sendo loucas em suas paixões, a possibilidade de as heroínas se envolverem em cenas lascivas seria bastante considerável. E entre ver esposas cuidando de seus afazeres domésticos e bisbilhotar belas jovens se entregando ao sexo, muitos preferiam esta última opção.
Uma alternativa que agradava aos leitores deveria desagradar, e muito, aos censores portugueses. Basta lembrar que boa parte dos romances proibidos foi de obras escritas e publicadas na primeira metade do século XVIII. Boa parte, mas não a totalidade. A censura portuguesa também proibiu um número considerável de obras lançadas após 1750. Entre elas estava Júlia ou A Nova Heloísa, de Jean-Jacques Rousseau, proibida pelo Edital da Real Mesa Censória em 24 de setembro de 1770. Uma proibição que - pensando especificamente no feminino - chega a surpreender. Sob vários aspectos, a obra proibida de Rousseau se alinhava às opiniões de uma moral religiosa que era apregoada às mulheres e que os tribunais censórios portugueses tanto defendiam. Em vez de corromper e ridicularizar valores como a virgindade, o casamento, a fidelidade conjugal, o "dever" da mulher de ser obediente ao homem - primeiro ao pai, depois ao marido - e o zelo materno, temas caros à religião católica. A Nova Heloísa os defendeu de forma explícita.

François Boucher - A refeição da tarde.
Romance epistolar, com narrativa desenvolvida a partir de cartas trocadas entre os personagens, A Nova Heloísa marcou outro momento dos "romances filosóficos", com novas opiniões sobre o feminino. Nele, as mulheres não foram descritas apenas pelo ângulo das "paixões". O "belo sexo" passava a ser relacionado também a uma ideia de virtude, que estava estreitamente ligada a três pilares: à virgindade na juventude - afinal, "o amor nas moças é indecente e escandaloso e apenas um esposo autorizaria um amante" -, ao matrimônio e à maternidade. Segundo Rousseau, quando adulta, a mulher deveria saber qual é o seu lugar. A "mulher virtuosa" seria a esposa casta e submissa e a mãe que prepara os filhos para serem educados pelos homens: "Mas há um longo caminho dos seis anos aos 20; meu filho não será sempre criança e, à medida que sua razão comece a nascer, a intenção de seu pai é de realmente a deixar exercer. Quanto a mim, minha missão não vai até lá. Alimento crianças e não tenho a presunção de querer formar homens. Espero, disse olhando seu marido, que mãos mais dignas venham a se encarregar desse trabalho. Sou mulher e mãe, sei manter-me em meu lugar. Ainda uma vez, a função de que estou encarregada não é a de educar meus filhos, mas de prepará-los para serem educados".
Essas opiniões novamente se refletiram na caracterização das próprias personagens. Se nos romances anteriores à obra de Rousseau as heroínas não foram pensadas para viver a maternidade e o matrimônio, e sim para deixarem transparecer "os efeitos das paixões", na Nova Heloísa a situação se inverte. Neste romance, as personagens estão envolvidas com suas futuras obrigações de mãe e esposa durante quase toda a narrativa.
De Montesquieu a Rousseau, os "romances filosóficos" estiveram longe de propagandear uma emancipação feminina. Suas personagens bem demonstraram isso. Apaixonadas ou virtuosas, as mulheres foram sempre vistas nas obras como seres inferiores aos homens, tanto em sua capacidade psicológica quanto nos seus direitos perante a sociedade. A situação era bem difícil: se ousassem expor seus sentimentos, seriam encaradas como escravas de suas paixões. Se optassem por não abraçar a maternidade e o matrimônio, estariam se afastando da virtude. Mas, apesar de tanta resistência, as mulheres, mesmo vivendo em tal contexto, conquistaram importantes avanços. E continuam conquistando. Apaixonados e virtuosas.
Renato Sena Marques.
As Perseguidas.
In: Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 7 / Nº 79 / Abril 2012. p. 48-51.