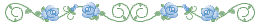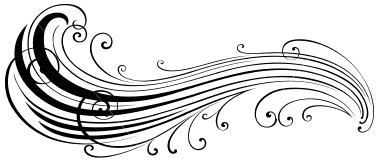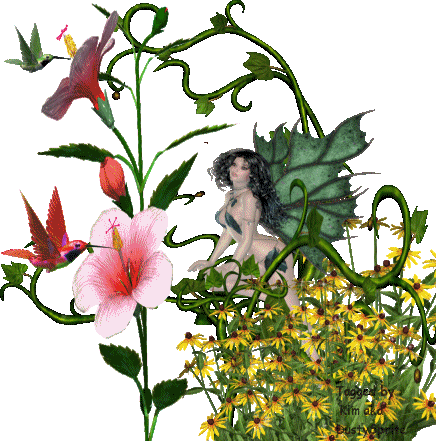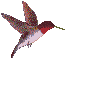Pintura descoberta de Ticiano
Uma pintura da Ascensão de Cristo cujo autor se desconhecia foi agora atribuída, pelo historiador de arte austríaco Artur Rosenauer, a Ticiano, o célebre pintor veneziano do Renascimento. A obra pertencera a uma família aristocrática alemã e encontra-se atualmente numa coleção privada em Montevideu, no Uruguai.
Rosenauer, que dedica um artigo a esta descoberta no mais recente número da revista Burlington Magazine, sublinha que o aparecimento de um Ticiano desconhecido é algo “extremamente raro”. O pintor morreu em 1576, crê-se que já octogenário, e foi, sem contestação, o mais famoso artista veneziano do seu tempo.
Segundo Rosenauer, a pintura agora atribuída a Ticiano terá sido executada por volta de 1511, quando o pintor andaria nos seus vinte anos. Com 144 cm de altura por 116,5 cm de largura, mostra Cristo de pé, junto ao túmulo do qual acabara de se erguer, tendo como fundo um céu com nuvens, mas iluminado pelo sol da manhã.
A obra terá sido adquirida no século XIX pela família von Bülow e manteve-se nas mãos dos seus descendentes até à morte do político e diplomata Bernhard Heinrich von Bülow, chanceler do Império Germânico de 1900 a 1909, após ter ocupado as funções de ministro dos Negócios Estrangeiros. Segundo Rosenauer, a pintura esteve na posse de Bernard von Bülow até este morrer em Roma, em 1929.
A identidade dos proprietários subsequentes não foi divulgada, mas, segundo o jornal inglês The Guardian, tratar-se-ia de europeus que emigraram para a América do Sul antes da Segunda Guerra.
Rosenauer não arriscou um possível valor comercial para esta pintura, mas uma outra obra de Ticiano, Diana e Calisto, que o artista terá executado entre 1556 e 1559, foi comprada em conjunto, em 2012, pela National Gallery de Londres e pela sua congénere escocesa, que pagaram 45 milhões de libras esterlinas (ao câmbio atual, perto de 54 milhões de euros) ao seu proprietário, o duque de Sutherland, Francis Egerton, para impedir que o quadro saísse do Reino Unido.
Rosenauer, que dedica um artigo a esta descoberta no mais recente número da revista Burlington Magazine, sublinha que o aparecimento de um Ticiano desconhecido é algo “extremamente raro”. O pintor morreu em 1576, crê-se que já octogenário, e foi, sem contestação, o mais famoso artista veneziano do seu tempo.
Segundo Rosenauer, a pintura agora atribuída a Ticiano terá sido executada por volta de 1511, quando o pintor andaria nos seus vinte anos. Com 144 cm de altura por 116,5 cm de largura, mostra Cristo de pé, junto ao túmulo do qual acabara de se erguer, tendo como fundo um céu com nuvens, mas iluminado pelo sol da manhã.
A obra terá sido adquirida no século XIX pela família von Bülow e manteve-se nas mãos dos seus descendentes até à morte do político e diplomata Bernhard Heinrich von Bülow, chanceler do Império Germânico de 1900 a 1909, após ter ocupado as funções de ministro dos Negócios Estrangeiros. Segundo Rosenauer, a pintura esteve na posse de Bernard von Bülow até este morrer em Roma, em 1929.
A identidade dos proprietários subsequentes não foi divulgada, mas, segundo o jornal inglês The Guardian, tratar-se-ia de europeus que emigraram para a América do Sul antes da Segunda Guerra.
Rosenauer não arriscou um possível valor comercial para esta pintura, mas uma outra obra de Ticiano, Diana e Calisto, que o artista terá executado entre 1556 e 1559, foi comprada em conjunto, em 2012, pela National Gallery de Londres e pela sua congénere escocesa, que pagaram 45 milhões de libras esterlinas (ao câmbio atual, perto de 54 milhões de euros) ao seu proprietário, o duque de Sutherland, Francis Egerton, para impedir que o quadro saísse do Reino Unido.
Fonte: Estórias da História